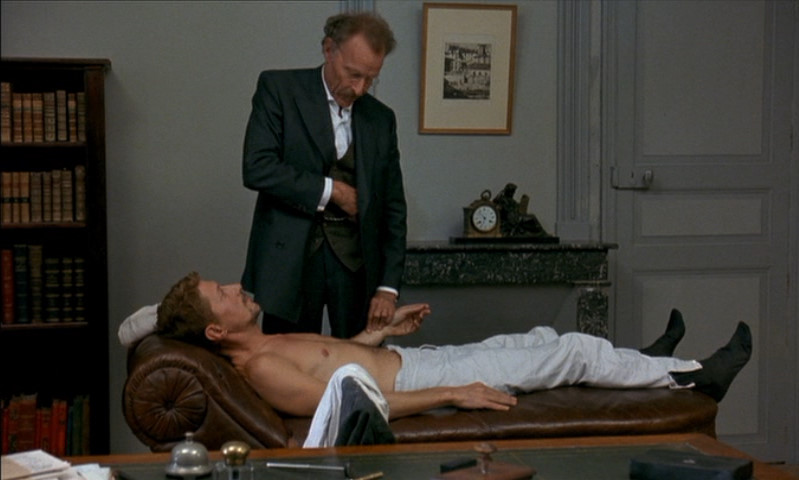Toda a tristeza do mundo
Após a Nouvelle Vague
Maurice Pialat já tinha 43 anos quando realizou seu primeiro longa-metragem, Infância Nua (1968). Antes disso, dirigira alguns curtas, L’Amour Existe (1960) tendo sido o filme de estreia. O começo tardio da carreira como cineasta se deve, em parte, ao fato de que o cinema não foi sua primeira ocupação. Pialat trabalhou, antes, como pintor, até perder as esperanças de conseguir sobreviver das artes plásticas e tentar outras atividades. Passou, então, pela televisão e pelo teatro, onde foi assistente de direção e ator.
Embora L’Amour Existe tenha ganho o prêmio de melhor curta-metragem no festival de Veneza de 1961 e aberto algumas portas, Pialat demoraria quase uma década até realizar seu primeiro longa. Enquanto esperava, viu a Nouvelle Vague estourar como fenômeno de público e crítica e, logo depois, se extinguir. A obra de Pialat vem na ressaca da Nouvelle Vague, e esse dado é crucial, pois ajuda a definir o tom dos seus primeiros filmes. Pialat, que era consideravelmente mais velho que a geração de Truffaut e Godard, não se colocava contra a NV, da qual, mal ou bem, partilhava alguns valores e algumas referências (Renoir, principalmente). Ele apenas representava o momento posterior, mais sombrio e desencantado. De Os Incompreendidos (Truffaut, 1959) a Infância Nua, de Pierrot le Fou (Godard, 1965) a Nós Não Envelheceremos Juntos (Pialat, 1972), a diferença de tom é gritante. A amargura já tomou conta.
Há, portanto, um desencontro entre Pialat e a geração que, mesmo sendo mais jovem, havia começado a filmar antes dele. Enquanto os “jovens turcos” preparavam nas páginas dos Cahiers du Cinéma o golpe de estado da Nouvelle Vague, Pialat se aventurava na pintura e tentava ganhar a vida da maneira que podia. Quando chega ao cinema, ele traz uma bagagem de pintor e não de cinéfilo, ao contrário dos jovens críticos aficionados pelo cinema americano. Ao falar de suas “filiações”, de seus parentescos cinematográficos, Pialat não puxa referências cinéfilas. Apesar de admirar Bresson, Carné, Pagnol e outros cineastas franceses, Pialat diz que sua verdadeira influência é Lumière (“o último pintor impressionista”, segundo Godard). O que ele busca em seus filmes é a nudez de olhar que caracteriza aquelas pequenas vistas lumièrianas em que as pessoas são filmadas pela primeira vez.
Filmar as pessoas, filmar o mundo como se o cinema estivesse nascendo naquele momento. Desconfiar da instituição-cinema, da máquina reprodutora de aparências. Rejeitar a decupagem técnica e todo o “savoir faire” do cinema; agir como se não houvesse uma “linguagem cinematográfica” já constituída. Redescobrir a potência primitiva do cinematógrafo: eis o caminho que Pialat toma quando começa a filmar.
Curiosamente, é com uma geração ainda mais jovem que a da NV que ele encontrará afinidade. Cineastas como Philippe Garrel, Jean Eustache e Jacques Doillon certamente estão mais próximos de Pialat, em termos de temperamento artístico, do que Chabrol ou Truffaut (que chegou a produzir Infância Nua, antes de romper relações com Pialat). É a geração pós-Nouvelle Vague, movida por uma exigência de autenticidade, de representação crua dos sentimentos, por uma obsessão de captura do gesto verdadeiro, da fala espontânea, do fato apreendido pela verdade mecânica da câmera. Mesmo na Nouvelle Vague, já havia Godard, que também empreendia uma busca pelos “minutos extraordinários de verdade” que derivam da destruição da montagem sintática (reencontrando, assim, a potência do plano individual) e da rejeição das regras da boa interpretação, almejando conseguir do ator, pelos caminhos menos convencionais, “um gesto imprevisto, uma mímica incontrolada, uma entonação involuntária”.[1] A modernidade do Godard dos primeiros filmes já residia, entre outras coisas, numa tentativa de recuperar o impulso primordial do cinematógrafo. Mas isso convivia com dezenas de citações, referências, experimentações com a mise en scène e a narrativa, invenções formais etc. A geração pós-NV simplifica as coisas, reduz ao básico.
Partindo de premissas comuns a outros cineastas surgidos na virada dos anos 1960-70, mas caminhando de modo um tanto solitário, Pialat constrói uma estética calcada na apreensão de uma verdade que só pode aparecer durante a filmagem, no corpo-a-corpo do cineasta com a realidade e com os atores. A câmera é o instrumento que possibilita a transcrição luminosa dessa verdade, que nem o roteiro nem a montagem podem inventar: ou ela ficou impressa na película, ou nunca existiu. A meta de Pialat, ao rodar um filme, não é simplesmente traduzir em imagens o que está escrito no roteiro, mas recriar inteiramente na filmagem a consistência cinematográfica da história e dos personagens, isto é, suscitar diretamente no real bruto a matéria dramática do enredo. Um filme não é a realização de um projeto, mas a descoberta de um evento desencadeado na frente da câmera.
Não é que Pialat rechaçasse o cinema de roteiro, a história bem contada, a narrativa bem construída. Não havia um projeto antinarrativo na origem do cinema de Pialat. Na verdade, ele muitas vezes se cobrava uma maior clareza narrativa, uma maior habilidade na hora de encadear as situações dramáticas. A questão é que, acima da necessidade de contar uma boa história, existia em Pialat uma atração pela massa bruta do real e, mais ainda, um respeito pela matéria do mundo, uma exigência de imprimir na película a força intrínseca dos seres e das coisas, algo que as técnicas de narração, assim como o preciosismo estético, só poderiam deturpar. Registrar a autenticidade de um gesto, de um olhar ou de uma entonação é muito mais importante para ele do que conceber enquadramentos rebuscados, movimentos de câmera virtuosos ou dispositivos cênicos complexos. Muitas vezes, aliás, um plano rodado por Pialat está “mal iluminado” e “mal sonorizado”, criando zonas de sub ou superexposição, de indefinição das figuras e das vozes: ele gosta de levar os materiais ao limite e ver até onde a verdade que busca nos atores é capaz de se inscrever na placa sensível do filme.
Pialat não possui uma estilística sistemática ou um programa textual recorrente ao qual o crítico pode se ater para analisar sua obra. O estilo de Pialat não é uma forma particular de compor o quadro, movimentar a câmera ou conduzir a narrativa. Tampouco há motivos visuais recorrentes na obra de Pialat, ou cores de predileção. Sua mise en scène frustra os cinéfilos acostumados a encontrar a assinatura estilística de um autor nos lugares em que ela mais comumente se manifesta (a linguagem visual, a composição plástica, a “escritura”). O estilo-Pialat é tão somente sua maneira particular de atacar o real, seu olhar direto e nada indulgente para tudo o que está diante da câmera.
“O mal está feito”
 Interrogando-se sobre o impacto que a obra de Pialat poderia ter sobre os jovens de hoje em dia, o crítico francês Charles Tesson se viu diante de um paradoxo e de um enigma, concluindo que era uma obra ao mesmo tempo muito próxima e muito distante deles. “Se fosse preciso tomar emprestada uma imagem para descrever o lugar de Maurice Pialat no cinema francês, eu evocaria o salmão, esse animal que emprega uma energia insensata para subir contra a correnteza e pôr seus ovos. Pois há uma descendência Pialat no jovem cinema francês! Passe ton Bac d'Abord é o filme matriz disso tudo, programático para os vinte anos a seguir.”[2]
Interrogando-se sobre o impacto que a obra de Pialat poderia ter sobre os jovens de hoje em dia, o crítico francês Charles Tesson se viu diante de um paradoxo e de um enigma, concluindo que era uma obra ao mesmo tempo muito próxima e muito distante deles. “Se fosse preciso tomar emprestada uma imagem para descrever o lugar de Maurice Pialat no cinema francês, eu evocaria o salmão, esse animal que emprega uma energia insensata para subir contra a correnteza e pôr seus ovos. Pois há uma descendência Pialat no jovem cinema francês! Passe ton Bac d'Abord é o filme matriz disso tudo, programático para os vinte anos a seguir.”[2]
Ora, o que mostra esse filme de 1978 que se revela tão influente nos anos 90, sendo citado como referência decisiva por cineastas como Cédric Kahn, Claire Denis, Noémie Lvovsky e Olivier Assayas? Trata-se de “um filme sobre a adolescência”, como o próprio Pialat definia. Passe ton Bac d'Abord é um filme de grupo, de personagem coletivo, praticamente um filme etnográfico, uma visão antropológica sobre a juventude de uma região marcada por pobreza, desemprego e vida cultural nula – um tétrico ambiente de balneário do qual a Nouvelle Vague havia passado longe. É como se Pialat tivesse se detido com calma sobre a juventude sem rumo mostrada rapidamente em L'Amour Existe. O que lhe interessa não é fazer um filme romântico sobre os ritos de passagem da adolescência, mas filmar de forma crua e direta momentos vividos em conjunto, momentos em que amigos se reúnem (festas, bares, casamento, escola, viagem de férias), em que uma família se junta, em que um casal se constrói e outro se destrói. As situações vão surgindo sem uma lógica dramática estrita presidindo o encadeamento das sequências. A narrativa é uma acumulação de minutos, de presenças, de conversas e trepadas, de gestos e perambulações, de energia gasta no vazio. As cenas não propriamente se articulam, mas apenas se somam. Os momentos se sucedem com aparente gratuidade (e até nulidade). Mas algo acontece a cada plano, a cada segundo de filme, e isso se deve, sobretudo, ao olhar de Pialat. A câmera está sempre posicionada num lugar de onde consegue enfocar alguma coisa surgindo entre as pessoas. Não é questão de ser o melhor lugar, o ângulo privilegiado, o ponto de vista justo – é simplesmente a noção clara de quanto de espaço deve haver, a cada momento, entre a câmera e os atores. A mise en scène de Pialat consiste em observar, em tomadas de vista que espantam por sua exatidão e simplicidade (“nem distanciadas nem cúmplices”, disse acertadamente Jean-Pierre Oudart), a crueldade brotando no filme como um produto natural do tempo.
 La Gueule Ouverte (1974), seu filme anterior, já trazia uma visão assaz aterradora da vida em família e da existência como um todo. Através da doença que consome a personagem da mãe, Pialat filma, com olhar puramente terreno e desencantado, a erosão do tempo, o definhamento de um corpo. A vida tende à demolição, e a única coisa que o cinema pode fazer é registrar a morte em marcha.
La Gueule Ouverte (1974), seu filme anterior, já trazia uma visão assaz aterradora da vida em família e da existência como um todo. Através da doença que consome a personagem da mãe, Pialat filma, com olhar puramente terreno e desencantado, a erosão do tempo, o definhamento de um corpo. A vida tende à demolição, e a única coisa que o cinema pode fazer é registrar a morte em marcha.
O que marca o cinema de Pialat é a certeza de que “o mal está feito”.[3] Seu impulso natural é captar a crueldade que condiciona a existência humana e a tristeza que se esconde no fundo de todos os seres. Nos filmes de Pialat, o mal é feito por uma espécie de “fatalidade masoquista” que impele os personagens à autodestruição: “o mal que o ser humano recebe, ele devolve aos outros, e sua infelicidade – que se traduz pela violência ou, nos momentos de calma, pela amargura – provém da desilusão de viver num mundo do qual ele só percebe a feiura e a sujeira”.[4]
A crueldade dos filmes de Pialat, contudo, não descamba num miserabilismo ou num gosto vulgar pelo sórdido. Trata-se, antes, da crueldade que o mundo revela quando visto sem nenhum filtro (cultural ou estilístico), sem nenhum verniz. É a nudez, a crueza das coisas o que leva a esse sentimento de crueldade e, no limite, provoca um mal-estar. Estamos acostumados a nos proteger das coisas por meio da linguagem, da cultura. Vistas em sua brutalidade original, elas assustam. A linguagem funciona como um vidro isolante, um instrumento de transformação do mundo em representação. Mas Pialat quer justamente o que se encontra antes dessa preparação, desse processamento intelectual ou conceitual do mundo. Por isso ele enfraquece as proteções fornecidas pela linguagem, expondo o espectador ao real filmado sem muita mediação reconfortante.
A crueza assim exposta leva a um tipo de experiência estética pouco comum. Os filmes de Pialat são de rara beleza. Mas belo não necessariamente significa agradável, e nem sempre encontraremos num filme de Pialat o refinamento magistral, a destreza, o equilíbrio, tampouco o frescor, a experimentação, a jovialidade, em suma, nenhuma das belezas já admitidas pelos cânones (clássicos ou modernos). O que vemos em seus filmes é a beleza da autenticidade, da verdade extraída – no mais das vezes, à força – de uma realidade captada em sua energia e intensidade singulares. Uma coisa comum na obra de Pialat são os afrontamentos físicos, as explosões de violência que jogam um corpo sobre o outro, e que nada constituem senão um último ato desesperado dos homens ante a constatação de que a desgraça é irremediável.
A vida como uma série desordenada de intensidades
Há algo que Pialat partilha com John Cassavetes e que podemos ver também em cineastas mais recentes como Abel Ferrara, Philippe Grandrieux e Claire Denis: cada qual a seu modo, eles realizam cinematograficamente, corporalmente, visceralmente, “a ideia filosófica de que a vida não é uma forma, uma luta contra a desordem, mas uma série desordenada de intensidades”.[5]
A vida dos personagens de Pialat não se organiza em torno de um projeto; ela é vivida no fluxo dos eventos e no descontrole das emoções, nas energias vitais transbordantes. Uma narrativa de Pialat, consequentemente, nada mais é que uma sucessão de fragmentos de existência selecionados em virtude de sua maior ou menor carga de intensidade, não necessariamente compondo um arranjo significante claramente estruturado. A mise en scène deve estar, acima de tudo, atenta aos movimentos imprevisíveis dos atores, à temperatura do ambiente, às irrupções violentas dos corpos, às tensões que circulam no espaço e colocam em risco a própria integridade do plano.
Os filmes de Pialat não trazem tanto da sujeira e da granulação das imagens, da luz pungente, das angulações agressivas que por vezes vemos no cinema de Cassavetes. Pialat não explora tão abertamente a expressividade dos elementos plásticos. Os acidentes ópticos que Cassavetes assimila e fermenta em seus filmes – a exemplo daqueles halos luminosos surgidos ao acaso e mantidos no quadro ao ponto da saturação, como se quisessem devorar a imagem – são mais escassos em Pialat, cuja câmera se porta, não raro, com certa “serenidade”, se é que essa palavra se aplica ao diretor de Sob o Sol de Satã. Talvez não seja serenidade, mas antes a paciência de um caçador que aguarda, estuda o momento certo de atacar a presa, ou de um cirurgião que avalia o corpo operado à procura do “ponto de clivagem”, do lugar em que ele vai incidir. Uma vez encontrado esse ponto, a câmera corta diretamente no nervo.
Falhas constitutivas
Um filme de Pialat nunca é totalmente réussi, bem sucedido, acabado, concluído. Ele é sempre um pouco raté, fracassado, incompleto. Há partes faltando, há a sensação de que o material do filme transborda sua duração, de que a cor não coube inteiramente na figura. Não se trata de um efeito buscado sistematicamente por Pialat, mas sim de uma realidade que se impõe no decorrer das filmagens. A instabilidade que sentimos ao longo de Passe ton bac d’Abord, Loulou ou Aos nossos amores não é algo predeterminado e calculado; a coisa simplesmente acontece. O plano inicial de seus filmes é comumente abandonado em função das modificações inesperadas ocorridas no processo de feitura. O que chega para o montador, então, já não é mais o material bruto que ele deve lapidar até reencontrar a história que o roteiro continha em embrião: o que ele recebe é algo muito mais complexo e difícil de estruturar.
A noção de montagem, em Pialat, não diz respeito a uma etapa de lapidação e afinação da narrativa; a montagem se dá para além do encadeamento dramático e da progressão psicológica. Os filmes de Pialat não aspiram a uma unidade orgânica, a um equilíbrio das partes, e sim à exploração das relações de força entre os planos e ao empilhamento sem trégua das tomadas de vista. Daí um filme como Nós Não Envelheceremos Juntos ter um aspecto tão sufocante: as brigas do casal protagonista são mostradas uma após a outra, sem respiro, sem pausas narrativas. Entre uma cena e outra, podem ter se passado dias, semanas ou até meses, mas o filme faz questão de acavalá-las de modo a retratar uma relação permanentemente em crise, sempre no paroxismo da tensão.
 Infância Nua também é uma soma de blocos-sequência “não suturados”. A falta de sutura se deve ao fato de que a montagem não alivia a violência do corte pela organização significante da narrativa. O filme apenas acumula, empilha um plano sobre o outro, mantendo entre eles a fratura, a amputação que está na origem da vida de François, um menino órfão que vive mudando de casa por não se adaptar a nenhuma família. A narração de Infância nua é radicalmente anti-romanesca. Pialat deliberadamente suprime partes do roteiro em proveito de situações que ele observa ou ouve de membros de seu elenco amador. O que importa é a verdade dos atores, não há desejo de ficção que possa desviar Pialat desse desejo outro, primordial, de registrar um momento inédito e inesperado a partir dos atores não-profissionais com que trabalha. O resultado não desmente o diretor: o que vemos é uma sucessão de blocos dramáticos em que a força do fato bruto se impõe contra qualquer primazia de estilo ou de fabulação.
Infância Nua também é uma soma de blocos-sequência “não suturados”. A falta de sutura se deve ao fato de que a montagem não alivia a violência do corte pela organização significante da narrativa. O filme apenas acumula, empilha um plano sobre o outro, mantendo entre eles a fratura, a amputação que está na origem da vida de François, um menino órfão que vive mudando de casa por não se adaptar a nenhuma família. A narração de Infância nua é radicalmente anti-romanesca. Pialat deliberadamente suprime partes do roteiro em proveito de situações que ele observa ou ouve de membros de seu elenco amador. O que importa é a verdade dos atores, não há desejo de ficção que possa desviar Pialat desse desejo outro, primordial, de registrar um momento inédito e inesperado a partir dos atores não-profissionais com que trabalha. O resultado não desmente o diretor: o que vemos é uma sucessão de blocos dramáticos em que a força do fato bruto se impõe contra qualquer primazia de estilo ou de fabulação.
Loulou (1980) radicaliza ainda mais o aspecto lacunar da montagem. O roteiro é reduzido a um fiapo de trama: Nelly (Isabelle Huppert), moça bonita e culta, larga o marido burguês para ficar com Loulou (Gérard Depardieu), um bronco que não tem ocupação nem emprego fixo. A parte sociológica e psicológica do enredo é reduzida ao máximo; a verdade incontestável que emerge de cada cena do filme é a verdade dos corpos em confronto entre si, com o mundo e com a câmera.
Personagens secundários vêm e vão; situações que não contribuem em nada para a construção do drama central ganham tanto tempo de tela (ou até mais) que as situações mais “relevantes” do ponto de vista da dramatização. A principal cena do filme, aquele violento tour de force após o almoço na casa de campo, consiste numa briga ocasionada pelo ciúme de um personagem que mal aparece no filme. Nada impede, no cinema de Pialat, que um personagem secundário seja o estopim de uma cena mais intensa que aquelas que envolvem o drama de seus personagens principais. Para ele, basta filmar um traço, um naco de vida de um personagem, e esse personagem automaticamente passa a ter uma presença, uma realidade ampla e sólida.
Loulou, a rigor, não foi terminado. As filmagens se atrasaram e os atores precisaram abandonar o filme para se dedicar a outros projetos (Huppert, por exemplo, viajou para os EUA para integrar o elenco de O Portal do Paraíso, de Michael Cimino). O filme teve então de ser montado com o material de que dispunha até aquele momento, faltando pedaços, faltando certas passagens que tornariam a narração mais explícita, mais linear, menos caótica. A força do filme, porém, está justamente nessas carências, nessas fendas, nessas “faltas” assumidas e exploradas pelo diretor e seus montadores (dentre eles Yann Dedet, com quem Pialat irá trabalhar até seu penúltimo filme, Van Gogh). A carência de informações sobre um personagem não o empobrece ou diminui sua espessura dramática, pelo contrário: somos levados a perceber que ele possui toda uma vida fora de campo, que é uma pessoa e não apenas um personagem de cinema.
dedicar a outros projetos (Huppert, por exemplo, viajou para os EUA para integrar o elenco de O Portal do Paraíso, de Michael Cimino). O filme teve então de ser montado com o material de que dispunha até aquele momento, faltando pedaços, faltando certas passagens que tornariam a narração mais explícita, mais linear, menos caótica. A força do filme, porém, está justamente nessas carências, nessas fendas, nessas “faltas” assumidas e exploradas pelo diretor e seus montadores (dentre eles Yann Dedet, com quem Pialat irá trabalhar até seu penúltimo filme, Van Gogh). A carência de informações sobre um personagem não o empobrece ou diminui sua espessura dramática, pelo contrário: somos levados a perceber que ele possui toda uma vida fora de campo, que é uma pessoa e não apenas um personagem de cinema.
A obra-prima de Pialat?
O conceito de obra-prima talvez nem caiba no cinema de Pialat. Mas se há um filme do diretor que parece ter sido guardado para a posteridade, e que será sempre lembrado e estudado, é Aos Nossos Amores (1983).
Lançado três anos depois de Loulou, Aos Nossos Amores foi um grande sucesso comercial na carreira de Pialat, e possivelmente seu único filme unanimemente acolhido pela crítica. A partir daí, Pialat não seria mais um marginal, um diretor que ocupava as bordas e as periferias ingratas do cinema francês. Ele viria para o centro, seria “um marginal do centro”, como disse Alain Bergala.
O filme começa no Mediterrâneo, em clima de férias de verão, com adolescentes descobrindo o amor, vivendo momentos fugazes, participando de uma encenação naïf de On ne badine pas avec l'amour, de Musset. Mas como em Adeus Philippine (1962), de Jacques Rozier (um dos poucos cineastas com quem Pialat se sentia sintonizado), esse frescor da juventude e essa atmosfera ensolarada encobrem uma tristeza profunda, uma ferida que corta o mundo por dentro. Em Rozier essa tristeza se cristaliza na guerra da Argélia, para onde o personagem vai após o idílio mediterrânico que vive ao lado de duas moças. Em Pialat, o mal já está feito de antemão, não sabemos qual o motivo.
A protagonista de Aos Nossos Amores é Suzanne, interpretada pela então debutante Sandrine Bonnaire. O filme que se delineia nos primeiros minutos poderia se chamar “Suzanne” ou até mesmo “Sandrine”. Pialat parece interessado, a princípio, em fazer um documentário sobre a energia de vida dessa adolescente talentosa que descobriu durante os testes de elenco e pela qual está fascinado. Ele sempre gostou de atores não profissionais, mas com Sandrine Bonnaire dá um passo além: descobre uma jovem sem as habituais resistências (comuns em não-atores) motivadas por timidez ou por reserva e sem o compromisso (comum em atores profissionais) com uma imagem previamente construída por outros filmes, sem carreira a defender, enfim, uma pessoa que simplesmente, por um golpe de natureza, atinge de imediato o essencial da cena e da personagem, justamente por saber ocupar o espaço que Pialat lhe reserva: uma fenda aberta entre o jogo dramático e a espontaneidade do improviso. Por não temer o risco do imprevisto, da surpresa, por não evitar a ambiguidade entre o atuado e o não-atuado, Sandrine se revela a atriz ideal para o papel. Quando Pialat diz “ação!”, nenhum dos atores ou dos técnicos da equipe sabe direito o que vai acontecer. Alguns se assustam com tal método, outros se enervam; Sandrine está à vontade.
A trama do filme pode se resumir às trocas de namorados de Suzanne ao longo de um dado período. Simultaneamente, há uma história familiar pautada pelo afundamento, pela queda. O pai (interpretado pelo próprio Maurice Pialat) sai de casa e sua ausência cria um buraco negro no seio familiar, um fosso que suga os personagens com agressividade ciclônica. Suzanne, sua mãe e seu irmão mais velho se torcem uns sobre os outros, se batem, se agarram. Em certos momentos, o filme se torna um estudo etológico sobre o comportamento selvagem.
A câmera de Pialat sempre chega depois: depois que o mal foi feito, depois que o amor foi feito. As cenas de sexo são filmadas alguns minutos ou mesmo alguns poucos segundos após a consumação do ato. Uma, em particular, é inesquecível: Suzanne e seu parceiro estão nus, ofegantes, saciados, e o rosto dela exala plenitude. Ela não pensa em nada, não sente falta de nada. É o único momento do filme em que o tempo parece ter esquecido de impor aos personagens sua marcha destrutiva. Será que Suzanne conseguirá escapar do ciclo de destruição familiar a que se vê aprisionada? Será o final de Aos Nossos Amores – aquele fotograma congelado do rosto de Suzanne indo em busca de sua liberdade (física, moral) – um final otimista, o mais otimista da carreira de Pialat?
Embora seja o mais arejado, límpido e sensual dos filmes de Pialat até então, e embora apresente uma mise en scène de certo modo mais “bem polida”, quase clássica em certas passagens (diálogos em campo-contracampo no melhor estilo “direção invisível”, por exemplo), Aos Nossos Amores traz aquela crueza-crueldade e aquela selvageria narrativa dos filmes anteriores. Continuam presentes as elipses indeterminadas, as faltas, a narrativa esburacada e sem cimento dramático entre uma cena e outra, a sensação de assistirmos a seres humanos próximos de uma ruptura iminente.
J’en ai marre!
“J'en ai marre!”: eis a fala mais recorrente no cinema de Maurice Pialat, cineasta do ressentimento, da neurose, da histeria. Em todos os seus filmes, há sempre um personagem (ou mais de um) que num determinado momento desabafa: “j'en ai marre!”, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas o que eles não suportam mais? Tudo. A filmagem, inclusive: os sets de Pialat ficaram conhecidos por seu caráter extenuante. Trabalhar com Pialat era uma experiência exaustiva, sobretudo para os atores, com os quais ele raramente se dava por satisfeito. Essas relações de forças entre o diretor e os atores tencionavam as cenas registradas pela câmera.
 O processo de filmagem de Loulou, por exemplo, foi tão conturbado quanto possível (brigas, desistências, mudanças repentinas no plano de trabalho etc). Isabelle Huppert sofreu bastante com o processo. Gérard Depardieu, por sua vez, ganhou um novo amigo: ele e o diretor dialogaram como jamais outro ator havia conseguido dialogar com Pialat (não à toa, fariam juntos outros três filmes: Polícia, Sob o Sol de Satã e Le Garçu). Pialat captou de forma inédita o paradoxo de Depardieu, isto é, seu magnetismo animal e sua fragilidade quase infantil, que ele retomaria em Polícia (1985), cujo último plano o mostra sozinho, frágil, melancólico – aquele policial que vimos interrogar suspeitos violentamente, impor-se pela força física, pela virilidade, de repente é flagrado em total solidão: um ser sensível que necessita de proteção.
O processo de filmagem de Loulou, por exemplo, foi tão conturbado quanto possível (brigas, desistências, mudanças repentinas no plano de trabalho etc). Isabelle Huppert sofreu bastante com o processo. Gérard Depardieu, por sua vez, ganhou um novo amigo: ele e o diretor dialogaram como jamais outro ator havia conseguido dialogar com Pialat (não à toa, fariam juntos outros três filmes: Polícia, Sob o Sol de Satã e Le Garçu). Pialat captou de forma inédita o paradoxo de Depardieu, isto é, seu magnetismo animal e sua fragilidade quase infantil, que ele retomaria em Polícia (1985), cujo último plano o mostra sozinho, frágil, melancólico – aquele policial que vimos interrogar suspeitos violentamente, impor-se pela força física, pela virilidade, de repente é flagrado em total solidão: um ser sensível que necessita de proteção.
Aos Nossos Amores é outro exemplo perfeito do estado de nervos que se instalava. Para Evelyne Ker, que faz a mãe de Suzanne, as filmagens de Aos Nossos Amores foram traumáticas. Além de irritada com o tratamento ríspido que recebia de Pialat, ela sentia ciúme da atenção exclusiva que o cineasta dedicava a Sandrine Bonnaire. Um belo dia, ela explode de raiva em plena cena. Na primeira sequência de afrontamento entre sua personagem e os filhos, Evelyne Ker fica histérica e toda a equipe se dá conta de que naquele momento é a atriz, e não a personagem, que perde as estribeiras. Pialat, provavelmente se regozijando por ter finalmente atingido o que queria, ou seja, a desestabilização do sistema nervoso da atriz, limita sua mise en scène a registrar de forma direta, num plano aberto e contínuo, essa explosão histérica. A partir de um determinado momento do filme, cada plano passa a conter a iminência de um personagem partir para cima do outro e eles começarem a se estapear.
O fundo dos seres
Uma das melhores cenas da obra de Pialat é aquela já citada briga desencadeada por uma explosão de ciúme na segunda metade de Loulou. A confusão ocorre após o almoço na casa de campo em que Loulou (Depardieu) visita amigos e familiares, acompanhado de Nelly (Huppert). Um rapaz acha que um dos amigos de Loulou está flertando com sua esposa, e resolve tirar satisfações armado de uma espingarda de cano duplo. Começa uma daquelas cenas tipicamente pialatianas em que um indivíduo avança sobre o outro, os atores se enroscam num novelo humano – meia-dúzia de corpos se atracando de forma feroz, histérica e, em certos momentos, patética. Pialat filma toda a sequência da briga em três ou quatro planos longos, com câmera na mão, numa técnica quase documental. A mise en scène brota como que do interior do plano-sequência, espontaneamente, embora saibamos que algo assim não poderia ocorrer sem um tanto de preparo e controle.
A briga é a reação impulsiva da patologia amorosa que um homem culto (a exemplo do ex-marido de Nelly) recalcaria numa neurose intelectualizada, verbalizada, filtrada pelo mundo “superior” das ideias. Ali, na França profunda, as coisas são resolvidas com uma espingarda de caça de cano duplo. A tirar pelo anti-intelectualismo de Pialat, é de se concluir que, no fundo, ele simpatiza com o rapaz que, tomado de ciúme, pega a espingarda e parte para a ignorância. Antes isso às discussões civilizadas dos casais burgueses.
No final da sequência, a câmera desloca-se dos personagens envolvidos na briga e encontra Isabelle Huppert com o olhar perdido, desconectada da realidade ambiente, voltada para pensamentos íntimos. Pialat sai quase imperceptivelmente do registro exterior da bagarre coletiva e busca a interioridade de Nelly, o fundo de verdade de seus sentimentos naquele momento. A câmera deixa de lado o aspecto físico e coletivo da cena e passa a sondar o estado interno da personagem de Huppert – a única, dentre os presentes, que não faz parte daquele mundo –, tentando visualizar o que ela pensa e sente. Nelly se acha, de repente, profundamente solitária (a câmera se fecha sobre ela, depois de um conjunto de planos-sequência em que havia sempre dois ou mais personagens em quadro), perdida num universo que não é o seu, quer dizer, numa classe social que não é a sua. Seu não-pertencimento ao mundo de Loulou, já colocado desde o início, vem à tona após aquela cena de violência. Será que naquele plano, naquela caminhada de Nelly, indo do lugar onde aconteceu a briga até a mesa em que ela se serve de um licor, com semblante introspectivo, acompanhada de perto pela câmera, será que naquele momento ela decide abortar o filho que está esperando de Loulou? É provavelmente ali, naquele ponto da narrativa, que ela se dá conta de que não quer manter um vínculo para a vida toda com aquele mundo.
Todos os filmes de Pialat contêm essas bolhas de tristeza, essas zonas de escuridão onde o ser se afunda. São os momentos em que a câmera perscruta – sem deixar de respeitar a opacidade natural dos seres – o que se passa no fundo da consciência, nos abismos da mente. Há vários olhares de Sandrine Bonnaire em Aos Nossos amores, de Gérard Depardieu em Polícia, de Marlène Jobert em Nós Não Envelheceremos Juntos, que acusam exatamente essa consciência de que a vida é uma luta (perdida de antemão) contra forças obscuras que ultrapassam nosso entendimento. Esses planos nos deixam com a certeza de que “a tristeza durará para sempre” (frase de Van Gogh citada por Pialat na parte final de Aos Nossos Amores), ou de que, no fundo dos seres, há a tristeza.
Retrato do cineasta enquanto pintor
A posição que Pialat ocupou face à Nouvelle Vague foi um pouco aquela ocupada por Van Gogh face ao Impressionismo: “uma dupla relação de cumplicidade e exterioridade”.[6] Van Gogh não era o pintor que Pialat mais admirava. No final de sua vida, ele disse que Van Gogh era apenas um bom pintor, “pas mal”. Ele certamente teve mais admiração por Poussin ou por Cézanne. Mas por que então filmou Van Gogh?
É sabido que seus filmes, em sua grande maioria, tinham fortes traços autobiográficos. E Van Gogh (1991) não é diferente: são várias as cenas em que, através da trajetória de Van Gogh, é com sua própria vida que Pialat está acertando contas (desde suas relações profissionais com técnicos, atores e produtores até suas relações amorosas). Ele pode não ter sido o pintor que Pialat mais admirou, mas sem dúvida foi aquele com que mais se identificou. E o fato de não achá-lo tão brilhante faz todo sentido: Pialat também não se julgava um grande artista, era auto-exigente e autocrítico ao extremo, terminava um filme e a primeira coisa que dizia era que ele havia dado errado, precisaria ter sido feito de modo diferente.
A mise en scène de Van Gogh é menos carregada que a de seus outros filmes. Não há aquela mesma espessura, aquela camada grossa de tinta que parece querer pular para fora da moldura (para usar uma metáfora pictórica de todo válida em sua obra). A luz de Van Gogh é mais fina e, sobretudo, mais solar que o habitual. Assim como a montagem parece disfarçar melhor as ausências do filme, suas falhas constitutivas. Mas isso tudo não passa de uma impressão: a luz é tão densa e pesada quanto em Sob o Sol de Satã; as supressões da montagem estão lá e são tão determinantes como nos outros filmes (apenas menos evidentes), basta pensar na cena da morte de Van Gogh, em que uma elipse arbitrária e gritante impede a concatenação da ordem final dos fatos e nega a explicação do tiro em seu abdômen.
Da mesma forma que a pintura de Van Gogh se impõe pela aplicação sucessiva de camadas de tinta, pelo empastamento das cores, pelo aspecto tátil do conjunto, o cinema de Pialat repousa sobre o gesto, sobre a ação do gesto. Filmar com as mãos, mais que com os olhos: Jacques Loiseleux, seu diretor de fotografia, conta que Pialat nunca conferia o quadro no visor e acompanhava a cena de perto, jamais utilizaria um monitor – a cena precisa existir tatilmente, fisicamente, antes de existir visualmente. “Da mesma forma que a pintura de Van Gogh não é representação da vida, mas por sua matéria é testemunha do gesto, do elã vital, do investimento libidinal que a fez existir – em uma palavra, que ela está na vida e não ao lado ou em face dela à maneira da imagem no espelho –, o cinema de Pialat, todo ele energia, sensação, pulsão, matéria, consiste em viver ao invés de só 'fazer cinema'”.[7]
Sem sol
Se Van Gogh havia sido o filme mais ensolarado de Pialat, seu último longa-metragem, Le Garçu (1995), se  fecharia em nuvens novamente: o filme se transporta de um clima de férias de verão ao som de reggae (com a vida conjugal já em crise) para um cenário cinza e invernal (com o casal já vivendo separado). Mais singelo e menos amargurado que as obras anteriores do diretor, Le Garçu possui, entretanto, uma tristeza de fundo que é quase tão desoladora quanto a de seus filmes dos anos 1970.
fecharia em nuvens novamente: o filme se transporta de um clima de férias de verão ao som de reggae (com a vida conjugal já em crise) para um cenário cinza e invernal (com o casal já vivendo separado). Mais singelo e menos amargurado que as obras anteriores do diretor, Le Garçu possui, entretanto, uma tristeza de fundo que é quase tão desoladora quanto a de seus filmes dos anos 1970.
Em Nós Não Envelheceremos Juntos, o relacionamento acaba depois de seis anos e não sobra nada de palpável, somente uma lembrança, uma imagem fugidia, como aquela imagem já refratada pela luz da memória que encerra o filme mostrando Marlène Jobert na praia – imagem mental, flashback, sonho? Em Le Garçu, o casal teve um filho antes de se separar. Um vínculo efetivo permaneceu daquela história a dois já terminada, um vínculo que, para dizer o mínimo, não é mais da ordem fantasmática da imagem memorial.
O plano da criança se desgarrando de seus colegas durante uma excursão escolar e caminhando sozinha num parque, com folhas secas sendo arrastadas pelo vento ao seu redor, é a imagem mais forte de Le Garçu: Pialat faz todo e qualquer espectador se enxergar nesse filho do inverno condenado a descobrir o mundo sozinho, não importa o quão ausentes ou presentes serão seus pais. Após a visita ao hospital e a cena da morte do pai do personagem de Gérard Depardieu, compreendemos que Le Garçu condensa em uma só obra a trilogia da vida que seus três primeiros longas compõem (Infância Nua, Nós Não Envelheceremos Juntos e La Gueule Ouverte: infância e solidão, vida adulta e separação, velhice e morte).
Entre Le Garçu e a data da morte de Pialat, decorreriam oito anos de reclusão e silêncio. Os Cahiers du Cinéma foram atrás dele em 2000 e fizeram uma longa entrevista. Ideias não faltavam, mas a saúde já debilitada o impedia de trabalhar. Ele viria a falecer no dia 11 de janeiro de 2003, aos 77 anos.
De punhos cerrados
Pialat não foi um homem de muitos amigos. Não era uma figura agradável, não falava o que os outros queriam ouvir, não fazia política. O episódio de Cannes em 1987, quando subiu ao palco para receber a palma de ouro por Sob o Sol de Satã, é emblemático: tal como ocorrera, alguns anos antes, com Robert Bresson, Pialat teve o “privilégio” de receber um prêmio em Cannes debaixo de vaia. Sua reação? Com toda a calma do mundo, disparou contra a plateia: “Vocês não gostam de mim, e posso dizer que também não gosto de vocês”. Em seguida, cerrou o punho e socou o ar em sinal de vitória.
Hoje, Pialat recebe elogios de todas as partes, e sua importância na história do cinema é incontestável (sempre foi, na verdade, a despeito de qualquer desavença pessoal). Ele é, possivelmente, o cineasta francês mais influente dos últimos vinte ou trinta anos. Claire Denis, Catherine Breillat, Mia Hansen-Love e Hou Hsiao-hsien que o digam. Mais ainda: Pialat garantiu seu lugar no panteão da cultura francesa como um todo. Aos Nossos Amores já foi até incluído na lista dos filmes que os candidatos ao vestibular na França precisavam ver. Além de ler os grandes clássicos da literatura francesa, eles tinham de assistir a um filme de Maurice Pialat.
Mas a verdade é que a obra do diretor de Aos Nossos Amores, para sobreviver em toda sua intensidade, não pode ser transformada em peça de museu ou patrimônio da cultura; ela deve permanecer ligada à violência existencial de que nasceu. A imagem que deve ficar de Pialat é aquela vista no festival de Cannes de 1987: com os punhos cerrados, enfrentando as vaias, mandando todos ao inferno. Não reconciliado.
Luiz Carlos Oliveira Jr.
[1] Cf. André S. Labarthe, “Una mujer es una mujer”, in DE BAECQUE, Antoine; TESSON, Charles (orgs.), Una cinefilia a contracorriente: la Nouvelle Vague y el gusto por el cine Americano, Barcelona: Paidós, 2004, p. 110.
[2] Charles Tesson, “Le saumon”, in Cahiers du Cinéma, nº 576, fevereiro de 2003 (dossiê especial dedicado ao cineasta então recém falecido), p. 24.
[4] René Prédal, “Les films de Maurice Pialat”, in _____. À nos amours, Paris: Armand Colin, 2005, pp. 18-19.
[5] Stéphane Bouquet, “L’usine à organes”, in BAECQUE, Antoine de ; BOUQUET, Stéphane ; BURDEAU, Emmanuel (orgs.), Cinéma 68, Paris: Ed. Cahiers du Cinéma, 2008, p. 189.
© 2016 Revista Interlúdio - Todos os direitos reservados - contato@revistainterludio.com.br