A saga de Michael Corleone
A saga de Michael Corleone
A cena inicial de O Poderoso Chefão II, uma das mais belas da história do cinema, mostra o novo padrinho, Michael Corleone (Al Pacino), dando a benção a um de seus subordinados. Seus olhos estão levemente marejados de lágrimas, o que retoma o brilhante desfecho da primeira parte, quando a porta se fecha para Kay enquanto Michael dá a benção pela primeira vez como Don Corleone, de maneira melancólica. Nesse momento, Michael se dá conta mais uma vez de que terá um destino do qual pretendia fugir desde o princípio (lembrem da clássica fala do primeiro filme: "é minha família, Kay, não sou eu"). Um destino sangrento, necessário para o bem da família. Esse prólogo não tem conexão direta com a história que veremos a seguir, embora norteie toda a trilogia e deixe claro aquilo que Coppola ressaltou em entrevistas: a saga O Poderoso Chefão é a história de Michael Corleone. Ele é o personagem trágico que tem sua vida transformada completamente pelo entorno violento no qual se inseriu meio que por acidente, e que o aprisiona até o fim de seus dias. A segunda parte é a que fornece todo o estofo da saga, a parte que amarra tudo de uma maneira sólida (que não exclui as arestas, já que a imperfeição é o próprio cerne da trilogia). É nela que vemos Michael tentando limpar o nome da família, e sua recusa à alcunha de padrinho, diferentemente do pai, que assim se nomeava. Mostra principalmente como ele se transformou em um déspota que assassina o próprio irmão, vivendo o resto de seus dias atormentado pela culpa.
Uma vez que a trilogia conta a história de Michael, todo o flashback dessa segunda parte, que conta em quatro etapas a ascensão ao poder de seu pai, desde a infância na Sicília até a consolidação de uma família na América, seria, então, uma enorme digressão? De forma alguma. O espelhamento justifica o flashback. O artifício da fusão o explicita. Os dois primeiros retornos para a juventude de Don Vito em Nova York iniciam com uma fusão. No primeiro, do rosto de Michael olhando o filho para o rosto de Vito, também olhando o filho (no caso, Sonny, irmão mais velho de Michael). No segundo, ambos olham para Fredo, do final dos anos 50, olhar fraternal para um irmão fragilizado e traidor, ao olhar de pai preocupado para Fredo, quando bebê, sofrendo de pneumonia. Nesses momentos fica claro que o desejo de poder e o cuidado com a família de um estão espelhados no outro, e que Michael refaz o caminho do pai contra sua própria vontade e de uma outra maneira, porque os tempos são outros. O próprio flashback final dessa segunda parte explicita esse aprisionamento à vontade do pai, primeiro com uma conversa antiga entre os irmãos, em que Tom expõe os planos de Don Vito em relação a Michael, antes deste último ir para a guerra, depois com Vito obrigando o menino Michael a acenar da janela de um trem, como se ele fosse um boneco que precisasse ser manipulado.
Toda a segunda parte é o desenvolvimento lógico da primeira. Coppola só aceitou dirigi-la (depois que o estúdio recusou sua indicação: Martin Scorsese), com a condição de que as duas partes fossem lançadas como um só filme. No que foi traído, exatamente como seus personagens o são em algum momento. No terço final da primeira parte fica estabelecido que Michael é o novo Don. Ainda mais implacável do que o pai, torna-se "o homem que nunca ri", como um Buster Keaton deslocado das comédias físicas para um triste melodrama (vale notar a semelhança física entre Keaton e Pacino). A porta que se fecha para Kay no final dessa primeira parte, fechando também o filme e privando o espectador de qualquer luz, é um retorno a Rastros de Ódio (um dos vários que serão feitos durante a Nova Hollywood), cujo final mostra a porta se fechando para John Wayne. No filme de John Ford, temos a exclusão do cowboy – e da mitologia do velho oeste – do núcleo familiar. No de Coppola, é a esposa que está excluída dos negócios do marido ("nunca me questione sobre meus negócios, Kay"). Nos dois casos, ficamos com a câmera, separados primeiro do velho oeste, depois da possibilidade de termos uma família honesta e livre da violência que marcou seu passado.
 É um caminho que não aceita retorno: assumir os negócios da família. Se você já tem poder e dinheiro, só há uma possibilidade: lutar para manter o poder e o dinheiro. E se for possível, conseguir mais. Esse poder é alcançado principalmente pelo medo de quem está ao redor. Nisso o personagem permite um paralelo com Bill the Butcher, o sanguinolento nativo de Gangues de Nova York, de Scorsese. É pelo medo que Bill the Butcher consegue se manter na liderança de um grupo de americanos que lutam contra os imigrantes irlandeses (os invasores de uma América pura). Da mesma maneira, Michael Corleone consegue impor sua liderança pelo medo, olhando com seus olhos super expressivos, mas por vezes enigmáticos, fulminando a atmosfera com sua interioridade (não dá para imaginar outro ator em sua pele que não Al Pacino), e até mesmo promovendo uma "limpeza étnica", afastando os "carcamanos" e cercando-se de puros americanos. Mudou-se de Nova York, terra de imigrantes, para um rancho em Nevada, próximo a Las Vegas. Vai atrás de uma América profunda, como se quisesse expurgar o lado mafioso de seu sangue. Exemplo claro dessa limpeza aparece logo no começo da segunda parte, quando o mafioso de voz rouca Frank Pentangelli reclama que não há um único músico italiano na festa dada por Michael a seu filho, e pede por uma tarantela, que logo vira "Pop Goes the Weasel" (velha canção de ninar inglesa que era muito popular nos EUA). Mesmo o meio-irmão Tom Hagen (Robert Duvall), adotado por Don Vito e treinado para ser advogado da família, será alvo temporário da limpeza e da desconfiança de Michael com todos que são próximos (nisso ele lembra o Jake La Motta de O Touro Indomável), como mostra uma cena logo no começo, quando Michael diz de forma indireta, a um terceiro, que Hagen não precisaria acompanhar a conversa, pois só cuida de alguns negócios da família. A câmera nesse momento concentra-se na frustração de Hagen, que sente-se então excluído, não mais um homem de confiança, não mais da família. Fora reduzido a um simples advogado, segundo a fala de Michael. Como já havia sido no último terço da primeira parte, quando é rebaixado do posto de consigliere para ser novamente um reles advogado, em uma ação que o deixa terrivelmente desolado. O sentimento de não pertencimento nessas cenas é forte, o aniquila moralmente. Tais momentos começam a explicitar o processo de isolamento dessa figura trágica que é Don Michael Corleone.
É um caminho que não aceita retorno: assumir os negócios da família. Se você já tem poder e dinheiro, só há uma possibilidade: lutar para manter o poder e o dinheiro. E se for possível, conseguir mais. Esse poder é alcançado principalmente pelo medo de quem está ao redor. Nisso o personagem permite um paralelo com Bill the Butcher, o sanguinolento nativo de Gangues de Nova York, de Scorsese. É pelo medo que Bill the Butcher consegue se manter na liderança de um grupo de americanos que lutam contra os imigrantes irlandeses (os invasores de uma América pura). Da mesma maneira, Michael Corleone consegue impor sua liderança pelo medo, olhando com seus olhos super expressivos, mas por vezes enigmáticos, fulminando a atmosfera com sua interioridade (não dá para imaginar outro ator em sua pele que não Al Pacino), e até mesmo promovendo uma "limpeza étnica", afastando os "carcamanos" e cercando-se de puros americanos. Mudou-se de Nova York, terra de imigrantes, para um rancho em Nevada, próximo a Las Vegas. Vai atrás de uma América profunda, como se quisesse expurgar o lado mafioso de seu sangue. Exemplo claro dessa limpeza aparece logo no começo da segunda parte, quando o mafioso de voz rouca Frank Pentangelli reclama que não há um único músico italiano na festa dada por Michael a seu filho, e pede por uma tarantela, que logo vira "Pop Goes the Weasel" (velha canção de ninar inglesa que era muito popular nos EUA). Mesmo o meio-irmão Tom Hagen (Robert Duvall), adotado por Don Vito e treinado para ser advogado da família, será alvo temporário da limpeza e da desconfiança de Michael com todos que são próximos (nisso ele lembra o Jake La Motta de O Touro Indomável), como mostra uma cena logo no começo, quando Michael diz de forma indireta, a um terceiro, que Hagen não precisaria acompanhar a conversa, pois só cuida de alguns negócios da família. A câmera nesse momento concentra-se na frustração de Hagen, que sente-se então excluído, não mais um homem de confiança, não mais da família. Fora reduzido a um simples advogado, segundo a fala de Michael. Como já havia sido no último terço da primeira parte, quando é rebaixado do posto de consigliere para ser novamente um reles advogado, em uma ação que o deixa terrivelmente desolado. O sentimento de não pertencimento nessas cenas é forte, o aniquila moralmente. Tais momentos começam a explicitar o processo de isolamento dessa figura trágica que é Don Michael Corleone.
Como é um personagem essencialmente melancólico, não morrerá na batalha, como Bill the Butcher, mas na solidão de sua velhice carregada de culpa. Seu maior infortúnio é que o medo que impunha aos subordinados e inimigos transbordou para os mais próximos. Sua mulher Kay (Diane Keaton) o temia – como ela mesma diz, na terceira parte: "eu não te odeio, eu tenho medo de você". Algo que soa mais forte, porque ódio e amor estão muito próximos, medo é algo que afasta. Até mesmo seu irmão Fredo o temia. Antes de ter motivos para temer realmente, já que virou traidor (e os traidores recebem tratamento implacável dos Corleones). O medo, afinal, como o ciúme e o despeito (que corroeram Fredo, irmão mais velho, porém dependente), corrompeu a família Corleone. Não há mais volta. A tragédia é inevitável e só há um meio de passar por ela: sozinho. Michael Corleone é mesmo um personagem solitário. Pode estar eventualmente rodeado de gente, bajuladores, ajudantes leais como Al Neri (Richard Bright), mas por mais que tente (a carta para os filhos no início da terceira parte, a reaproximação com a filha Mary no mesmo filme), é prisioneiro irrefutável da solidão.
Os três filmes são estruturados de maneira parecida, como um melodrama fragmentado por acontecimentos que mostram a parte violenta dos negócios da família, ou as conversas e celebrações que fortalecem o núcleo familiar, ou ainda o processo dentro do qual as ameaças veladas são feitas, e às vezes concretizadas (como no episódio do produtor de Hollywood que acorda com a cabeça decepada de seu cavalo em seu leito). Não se trata de glamourizar a máfia porque a melancolia está presente desde o primeiro diálogo, a conversa entre o negociante e Don Vito no escritório sombrio que Gordon Willis brilhantemente fotografou. A marca de toda a saga, por sinal, é a escuridão dos interiores que contrasta com a luz das celebrações ou da paisagem siciliana. Em todos vemos uma celebração no início, e um banho de sangue perto do fim (o da segunda parte é mais discreto, cadenciado). A matança do final da primeira parte é marcante pela montagem paralela. Enquanto o filho de Connie (irmã de Michael), é batizado, vemos o assassinato daqueles que poderiam ameaçar a família, agora com novo líder. Pequenos e necessários ajustes. Em O Poderoso Chefão III, temos novamente a montagem paralela, que contrapõe o filho de Michael cantando na montagem da ópera com uma matança ordenada para botar ordem nos negócios dos Corleones. Tal sequência lembra uma ampliação da cena de assassinato no clímax de Flor Seca (1964), de Masahiro Shinoda. O clima solene é o mesmo, assim como a ambiência artística e o fundo musical operístico. São assassinatos ritualizados, litúrgicos. (Coppola sempre se interessou pela arte japonesa. Teria visto o filme de Shinoda?) A intenção de Michael – limpar os negócios da família associando-se ao Vaticano – fracassou, e são descobertas falcatruas colossais no seio da igreja católica. A igreja não aliviaria mais sua culpa. Está tudo podre.
Uma marca da trilogia é que todas as partes foram realizadas sob enorme risco. Várias cenas da primeira foram filmadas a posteriori, para que algumas sequências fizessem sentido. A cena da conversa entre Michael e Vito nas cadeiras do jardim, por exemplo, uma das mais belas de toda a trilogia, foi filmada pelo produtor Robert Evans, porque sentiu-se que não havia um único momento em que pai e filho conversassem a sós. É um momento sublime, que se encerra com Vito e Michael olhando para lados opostos. Vito olha para a esquerda, o passado, enquanto Michael contempla seu futuro, para a direita, o caminho das trevas. A morte de Vito foi igualmente filmada depois, assim como alguns outros momentos do filme. Uma verdadeira bagunça que se organizou como que por milagre em uma obra-prima tão imperfeita quanto genial. Para não dizer a instabilidade de Coppola, que rodou todo o primeiro filme sob a ameaça de ser demitido a qualquer momento. Na segunda parte, temos várias elipses que soam mais como efeitos involuntários do que opções de estilo. O Poderoso Chefão III foi realizado em um momento mais calmo para Coppola (apesar de Tucker não ter ido bem nas bilheterias, a maior parte das dívidas da Zoetrope, contraídas por causa de O Fundo do Coração, já estavam pagas). Mas é o filme da trilogia em que ele mais se arrisca na mise en scène (ainda que esse risco seja bem menor que nos filmes mais pessoais, O Fundo do Coração, O Selvagem da Motocicleta), a ponto de criar uma das cenas mais estranhamente decupadas de sua carreira: a morte Mary (Sofia Coppola), filha de Michael. Começa com a saída do teatro onde o filho de Michael cantava "La Cavaleria Rusticana". Eles estão na grande escada na frente do teatro quando começam os tiros. O atirador é abatido, e Coppola nos mostra então 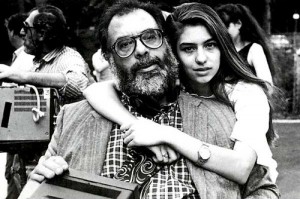 a reação de cada um, primeiro ao tiroteio, depois à descoberta de que Mary havia sido baleada. O ritmo ágil dos cortes contrasta com a reação de todos, montadas em câmera lenta, e com o grito profundo de Michael, que demoramos alguns segundos para escutar. A reação dos atores é marcada pelo estilo de representação de uma ópera e a escadaria se transforma em um palco para a tragédia, enquadrado com precisão simétrica. É um dos momentos mais fortes de toda a carreira de Coppola. É também o filme em que mais vemos achados visuais de enquadramento e montagem: lustres que ocupam dois terços do quadro durante uma cena de dança, flores que emolduram o rosto de Michael enquanto ele se confessa ao futuro Papa, Michael explicando uma aproximação perigosa para Vincent enquanto este já a realiza em paralelo, sobreenquadramentos frequentes que emolduram os personagens como se eles fossem cativos de seu próprio destino, xícara com chá envenenado mostrada em primeiro plano com acompanhamento da câmera, num momento digno do melhor Hitchcock. Realizada entre Tucker e Drácula, duas obras bem estilosas, esta terceira parte é sobrecarregada por uma suntuosidade que deixa a imagem rebuscada, barroca. Ao mesmo tempo, o filme todo se envolve de mistérios que proporcionam um outro risco. O que querem essas figuras (Don Altobello, Vincent, Kay, todos esses seres do Vaticano, o próprio Michael)? E que cena complexa é a da passagem do cetro, de Michael para Vincent, entre a tristeza, a celebração e a resignação? São várias as cenas que se dividem entre a opulência decorativa e o intimismo, entre a exuberância ameaçadora e o questionamento. É como se a qualquer momento estivéssemos perto de um naufrágio por causa de tanta ambiguidade (que exige muito talento tanto para ser construída quanto para não descambar para a incoerência), naufrágio sempre evitado com maestria. De certa forma, é o que também sentimos vendo Apocalypse Now e O Fundo do Coração, sendo que no primeiro o risco é parte constitutiva de sua força, e no segundo é o fantasma que assombra e impõe limites (ultrapassados por Coppola).
a reação de cada um, primeiro ao tiroteio, depois à descoberta de que Mary havia sido baleada. O ritmo ágil dos cortes contrasta com a reação de todos, montadas em câmera lenta, e com o grito profundo de Michael, que demoramos alguns segundos para escutar. A reação dos atores é marcada pelo estilo de representação de uma ópera e a escadaria se transforma em um palco para a tragédia, enquadrado com precisão simétrica. É um dos momentos mais fortes de toda a carreira de Coppola. É também o filme em que mais vemos achados visuais de enquadramento e montagem: lustres que ocupam dois terços do quadro durante uma cena de dança, flores que emolduram o rosto de Michael enquanto ele se confessa ao futuro Papa, Michael explicando uma aproximação perigosa para Vincent enquanto este já a realiza em paralelo, sobreenquadramentos frequentes que emolduram os personagens como se eles fossem cativos de seu próprio destino, xícara com chá envenenado mostrada em primeiro plano com acompanhamento da câmera, num momento digno do melhor Hitchcock. Realizada entre Tucker e Drácula, duas obras bem estilosas, esta terceira parte é sobrecarregada por uma suntuosidade que deixa a imagem rebuscada, barroca. Ao mesmo tempo, o filme todo se envolve de mistérios que proporcionam um outro risco. O que querem essas figuras (Don Altobello, Vincent, Kay, todos esses seres do Vaticano, o próprio Michael)? E que cena complexa é a da passagem do cetro, de Michael para Vincent, entre a tristeza, a celebração e a resignação? São várias as cenas que se dividem entre a opulência decorativa e o intimismo, entre a exuberância ameaçadora e o questionamento. É como se a qualquer momento estivéssemos perto de um naufrágio por causa de tanta ambiguidade (que exige muito talento tanto para ser construída quanto para não descambar para a incoerência), naufrágio sempre evitado com maestria. De certa forma, é o que também sentimos vendo Apocalypse Now e O Fundo do Coração, sendo que no primeiro o risco é parte constitutiva de sua força, e no segundo é o fantasma que assombra e impõe limites (ultrapassados por Coppola).
Se é exagero considerar esta terceira parte sensivelmente superior às demais, igualmente enganoso seria considerá-la inferior. Há um grande feito alcançado por Coppola em toda a trilogia. E tal feito reside na habilidade de fazer com que as três partes, por mais características próprias que tenham, se combinem perfeitamente, como um longo melodrama de nove horas. Se a terceira não era necessária a priori, Coppola lutou para que se tornasse essencial para compor o conjunto, para que completasse as outras duas enriquecendo-as. Pois não existe desfecho mais ideal para a saga de um homem solitário do que ele morrendo só, num cenário desolado, tendo como única companhia um cachorro. Morreu após rememorar as danças que teve com três das mulheres de sua vida (as duas esposas e a filha). Homenagem também ao grande Al Pacino, que além de ator é um ótimo dançarino.
Sérgio Alpendre
© 2016 Revista Interlúdio - Todos os direitos reservados - contato@revistainterludio.com.br





